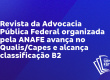O Estadão publicou, no último domingo (20), o artigo “CNJ fixa matriz de dano ambiental e inova em critérios legais”, de autoria do coordenador do Centro de Estudos da ANAFE, Marcelo Kokke.
Confira o artigo na íntegra:
CNJ fixa matriz de dano ambiental e inova em critérios legais
Marcelo Kokke*
O Conselho Nacional de Justiça publicou no final de 2021 a Resolução n. 433, de 27 de outubro. Embora já posta em comentários e elaborações, a Resolução guarda em si níveis de invasão às competências do Poder Legislativo e do Poder Executivo que precisam ser debatidas. Pretende-se por meio deste artigo expor pontos de crítica e invasão de atribuições procedidas pela Resolução, que veio a instituir a Política Nacional do Poder Judiciário para o Meio Ambiente.
Inicialmente, a própria denominação a que se destina a Resolução é problemática. O CNJ é um órgão do Poder Judiciário. O artigo 103-B, §4º, da Constituição estabelece que lhe compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Não é atribuição do Conselho estabelecer uma Política Nacional. O artigo 1º da Resolução afirma que a Política Nacional para o Meio Ambiente no Judiciário consiste em uma atuação estratégica dos órgãos do sistema de Justiça para a proteção dos direitos intergeracionais ao meio ambiente e se desenvolverá com base em diretrizes tais como os princípios do poluidor-pagador, precaução, prevenção e de criação de inteligência institucional para prevenção e recuperação dos danos ambientais na atuação finalística do Judiciário.
Não se está aqui a externar análise de valor quanto às diretrizes ou ao seu mérito. Evidentemente, a qualidade ambiental é direito fundamental a ser resguardado. Entretanto, isso não significa que caiba ao Poder Judiciário passar a fixar critérios e bases de política ambiental como se fosse o Legislativo ou o Executivo. A Resolução atua de tal forma que praticamente insere o Judiciário como um órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, em franco antagonismo para com a Lei n. 6.938/81.
A Resolução chega inclusive a afetar critérios de matriz de dano, assim como métricas de valoração na fixação condenatória de reparação por dano ambiental. O artigo 14 da Resolução determina que na condenação por dano ambiental o Magistrado deverá considerar, entre outros parâmetros, o impacto desse dano na mudança climática global, os danos difusos a povos e comunidades atingidos e o efeito dissuasório às externalidades ambientais causadas pela atividade poluidora.
O ponto não é a análise da repercussão em dano climático de atividades de supressão de vegetação, por exemplo, mas sim a fixação por via de Resolução para que os parâmetros de condenação reparatória sejam estipulados por órgão diverso do Poder Legislativo ou do SISNAMA. Quais critérios o Juízo irá adotar para afirmar que o lançamento de carbono ou o lançamento de poluição atmosférica por dado infrator contribuíram para com as mudanças climáticas? Haverá, inclusive, litígios internos, a ponto de se discutir em cada causa ambiental qual o nível de impacto climático, desviando o tema e lançando a desamparo de apreciação o objeto principal do processo.
Os litigantes poderão, também, embargar de declaração para que o Juízo identifique em sua condenação quanto do valor de parâmetro condenatório é relativo a impacto na mudança climática, quanto é relativo a danos difusos a povos e comunidades atingidas, quanto é relativo ao efeito dissuasório. Ao invés de atingir o alcance da pauta valorativa a que visa, o resultado pode ser exatamente inverso, com aumento de litígios e exacerbação de insegurança jurídica. As bases estruturais das funções dos Poderes não podem ser convertidas em mutabilidade para se alcançar nichos de competências diversos de cada Poder, por mais nobres que as medidas lhe pareçam.
A Resolução ainda prediz em seu artigo 15 que o Magistrado deverá garantir, nas ações que versem sobre direitos difusos e coletivos ou nas ações individuais que afetem os povos e as comunidades tradicionais, o efetivo direito à consulta prévia, livre e informada nos moldes da Convenção no 169 da OIT. Em outras palavras, o processo judicial passará a ser sede de consulta prévia. Há criação de procedimento inexistente na própria Convenção.
A Convenção n. 169 foi interiorizada no Brasil pelo Decreto n. 5.051/04. O artigo 6º afirma que os Governos devem consultar os povos interessados cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Não há absolutamente nada que demande transformar o processo judicial em local para consultas prévias, inclusive porque as comunidades estão resguardadas juridicamente seja por seus representantes próprios seja por substituição processual, como ocorre com a atuação do Ministério Público. Os reflexos são problemáticos. A decisão judicial que não tenha efetivado consulta prévia será nula? A audiência pública, tão usual e profícua na atuação em processos complexos, não se confunde com a consulta prévia em si. Instaura-se a incerteza.
Não há dúvidas quanto à relevância de pautas de proteção ecológica, sustentabilidade e melhorias das qualidades ambientais. Entretanto, a discussão e efetivação dessas pautas deve ocorrer nos nichos de competência constitucional. Extravasamentos, ao invés de contribuir, podem ser gatilhos de backlash contrários ao próprio objetivo almejado. É necessário discutir a Resolução CNJ n. 433/21 em seu impacto prático e não em sua atmosfera de inspiração.
*Marcelo Kokke, pós-doutor pela Universidade de Santiago de Compostela – ES. Mestre e doutor em Direito pela PUC-Rio. Coordenador do Centro de Estudos da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (ANAFE)